A humanidade desfigurada de Cristo

«Se dizemos que a Humanidade de Deus nos atingiu em nossa própria humanidade, o que devemos pensar da humanidade quando ela está des-figurada e ferida? O que crer quando a humanidade se desfigura e se desfaz? A tarefa da cristologia é a de afirmar a toda força que a Humanidade de Deus também está agindo, e em primeiro lugar, naqueles em que o rosto humano se desfigurou.
Porém, o que autoriza afirmar isto? A identificação de Jesus com os pobres. Mateus 25 não pode ter um sentido somente moral. Temos de pensar que esta identificação misteriosa do Filho do Homem com os pobres não é pretexto para justificar a injustiça nem a miséria. Não. Jesus se revela como o pobre entre os pobres, como o pobre mais pobre. A identificação de Jesus pobre e kenótico com os pobres da terra é o descenso de Jesus até o mais fundo, até o mais desfigurado do homem e do humano. Jesus, o Filho do Homem, não vem só para a condição humana realizada, mas vem para encontrar a condição desfigurada do homem, na figura abjeta do humano: os pobres da terra.
O Verbo encarnado de Deus é tratado de maneira inumana. Paradoxalmente, é na condição maltratada e humilhada que ele manifestou sua verdadeira humanidade. A cruz é lugar da revelação da Humanidade de Deus. O Filho do Homem veio ao encontro do homem e baixou até os abismos de sua desumanização. E desde o fundo das profundidades tenebrosas, a Humanidade de Deus aparece humanizando os pobres e maltra-tados. Não é que Jesus sofra em lugar dos sofredores, não é que Jesus assuma a pobreza e a inumanidade em lugar dos desumanizados e pobres; o sentido profundo da identificação de Deus com eles é que se criou uma espécie de comunidade de sofrimento entre eles e Jesus pobre e humilhado. Por isso se pode dizer com propriedade que eles são re-crucificados com ele, e ele com eles. “Dor com Cristo doloroso, quebranto com Cristo quebrantado” (EE 203). Não é possível conceber esta comunidade de sofrimento entre Jesus pobre e os pobres da terra se não nos inserimos solidariamente, qualquer que seja nossa condição humana, nesta comunidade sui generis, que somente encontra sentido n’Aquele que passou pela morte e que vive para sempre.»
Manuel Hurtado. Novas Cristologias: ontem e hoje – algumas tarefas da Cristologia contemporânea.
Imagem original: Grant Whitty on Unsplash
A verdade que nos liberta
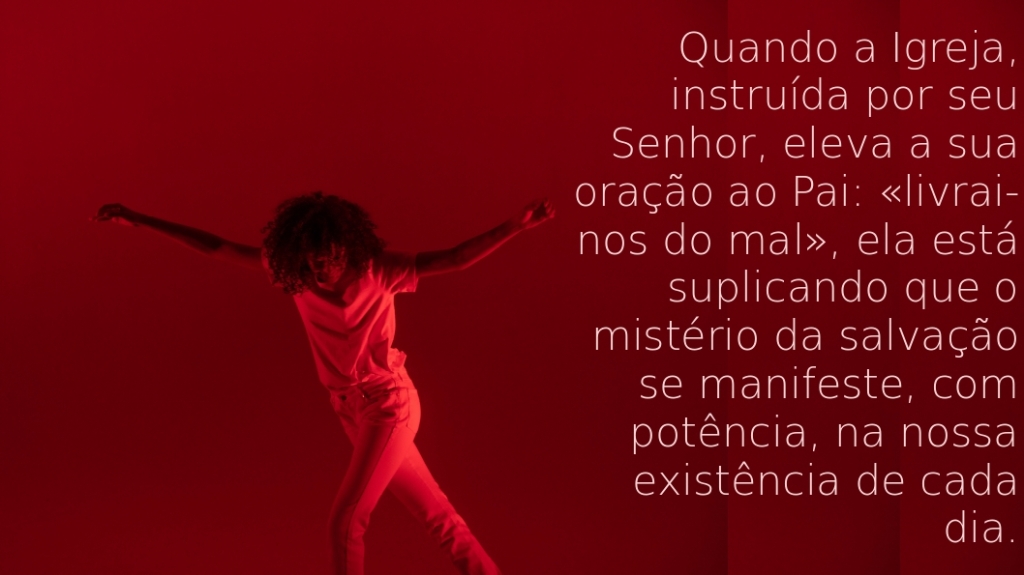
“A Instrução «Libertatis Nuntius» acerca de alguns aspectos da teologia da libertação anunciava que a Congregação tencionava publicar um segundo documento, que poria em evidência os principais elementos da doutrina cristã acerca da liberdade e da libertação. A presente Instrução responde a esse intento. Entre os dois documentos existe uma relação orgânica. Devem ser lidos um à luz do outro.
Sobre o tema deles, presente na medula da mensagem evangélica, o Magistério da Igreja tem se manifestado em numerosas ocasiões.2 O atual documento limita-se a indicar os seus principais aspectos teóricos e práticos. Quanto às aplicações que dizem respeito às diversas situações locais, compete às Igrejas particulares, em comunhão entre elas e com a Sé de Pedro, providenciá-las diretamente.
O tema da liberdade e da libertação tem uma evidente dimensão ecuménica. Com efeito, ele pertence ao património tradicional das Igrejas e comunidades eclesiais. Por isso mesmo o presente documento pode ajudar o testemunho e a ação de todos os discípulos de Cristo, chamados a responder aos grandes desafios do nosso tempo.
A palavra de Jesus: «A verdade vos libertará» (Jo 8, 32) deve iluminar e guiar, neste terreno, todas as reflexões teológicas e todas as decisões pastorais.
Essa verdade, que vem de Deus, tem o seu centro em Jesus Cristo, Salvador do mundo. D’Ele, que é « o Caminho, a Verdade e a Vida » (Jo 14, 6), a Igreja recebe aquilo que ela oferece aos homens. No mistério do Verbo encarnado e redentor do mundo, ela vai buscar a verdade sobre ó Pai e seu amor por nós como a verdade sobre o homem e sobre a sua liberdade.
Por sua cruz e ressurreição, Cristo realizou a nossa redenção: esta é a liberdade em seu sentido mais forte, já que ela nos libertou do mal mais radical, isto é, do pecado e do poder da morte. Quando a Igreja, instruída por seu Senhor, eleva a sua oração ao Pai: « livrai-nos do mal », ela está suplicando que o mistério da salvação se manifeste, com potência, na nossa existência de cada dia. Ela sabe que a cruz redentora é, verdadeiramente, a fonte da luz e da vida e o centro da história. A caridade que a inflama faz com que proclame a Boa-Nova e, através dos sacramentos, distribua os seus frutos vivificantes. É de Cristo redentor que partem o seu pensamento e a sua ação, quando, diante dos dramas que dilaceram o mundo, ela reflete sobre o significado e os caminhos da libertação e da verdadeira liberdade.
A verdade, a começar pela verdade sobre a redenção, que está no âmago do mistério da fé, é, pois, a raiz e a regra da liberdade, fundamento e medida de qualquer ação libertadora.”
Congregação para a Doutrina da Fé. Libertatis conscientia, 2-3,
Imagem original: jurien huggins on Unsplash
El hombre redimido por Cristo
“La excelencia de la «teología de la historia de la salvación», enseñada por el Concilio Vaticano II, aparece también si se consideran los efectos de la redención adquirida por Cristo el Señor. Por su cruz y resurrección, Cristo Redentor da a los hombres la salvación, la gracia, la caridad activa, y abre, de modo más amplio, la participación de la vida divina, simultáneamente «animando, por el mismo hecho, purificando y robusteciendo los deseos generosos con los que la familia humana intenta hacer su propia vida más humana y someter toda la tierra a este fin».
Cristo comunica estos dones, tareas y derechos a la «naturaleza redimida» y llama a todos los hombres para que por «la fe que obra por la caridad» (Gál 5, 6), se unan a su misterio pascual. En esto hemos conocido la caridad: porque él dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos (1 Jn 3, 16), no cediendo ulteriormente al egoísmo, a la envidia, a la avaricia, a los diversos deseos malos, a la arrogancia de las riquezas, a la concupiscencia de los ojos y a la soberbia de la vida (1 Jn 2, 16). Por otra parte, el apóstol Pablo describe esta muerte al pecado y la vida nueva «en Cristo» de modo que los discípulos del Señor eviten todo engreimiento y afectación (cf. Rom 12, 3), como miembros de la comunión cristiana, honren las vocaciones y los «dones» según la justa diferencia de las personas (Rom 12, 4-8), «amándose mutuamente con caridad fraterna, adelantándose en darse mutuamente el honor» (Rom 12, 10), «teniendo los mismos sentimientos unos para con otros, no fomentando sentimientos de altivez, sino allanándose a los humildes,… no devolviendo a nadie el mal por el mal, procurando lo bueno no sólo delante de Dios, sino también delante de todos los hombres» (Rom 12, 16-17; cf. Rom 6, 1-14; 12, 3-8).
La doctrina, los ejemplos, también el misterio pascual de Jesús confirman que los esfuerzos de los hombres con los que procuran construir un mundo más conforme con la dignidad del hombre, son justos y rectos. Critican las deformaciones de estos esfuerzos cuando o piensan utópicamente de su éxito terreno o emplean medios contrarios al evangelio. Superan estos esfuerzos cuando se proponen con luz meramente humana, en cuanto que el evangelio ofrece un nuevo fundamento religioso específicamente cristiano a la dignidad y derechos humanos, y abre unas perspectivas nuevas y más amplias a los hombres como verdaderos hijos adoptivos de Dios y hermanos en Cristo paciente y resucitado.
Cristo estuvo y está presente a toda la historia humana. «En el principio existía el Verbo,… todas las cosas han sido hechas por él» (Jn 1, 1-3). «Es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda creatura, porque en él han sido hechas todas las cosas en el cielo y en la tierra» (Col 1, 15-16; cf. 1 Cor 8, 6; Heb 1, 1-4). En su encarnación confirió a la naturaleza humana la máxima dignidad. Así el Hijo de Dios, en cierto modo, se une a todo hombre. Por su vida terrestre participó de la condición humana en todos sus aspectos, a excepción del pecado. En su pasión, por sus dolores humanos corporales y espirituales, fue partícipe de nuestra naturaleza con todos nosotros. Su paso de la muerte a la resurrección es también un nuevo beneficio que ha de ser comunicado a todos los hombres. En Cristo muerto y resucitado se encuentran las primicias del hombre nuevo, transformable y transformado en una condición mejor.
Así, con el corazón y con su obrar, todo cristiano debe conformarse a las exigencias de la vida nueva y obrar según la «dignidad cristiana». Estará especialmente dispuesto a respetar los derechos de todos (Rom 13, 8-10). Según la ley de Cristo (Gál 6, 2) y el mandamiento nuevo de la caridad (cf. Jn 13, 34) no tendrá cuidado por sus cosas propias ni buscará lo suyo (cf. 1 Cor 13, 5).
Usando de las cosas terrestres debe cooperar a la revelación de la creación, liberándola de la servidumbre de la corrupción del pecado (cf. Rom 8, 19-25) para que sirva a la justicia con respecto a todos por «los bienes de la dignidad humana, de la comunión fraterna y de la libertad». De esta manera, como en nuestra vida mortal hemos llevado, por el pecado, la imagen del Adán terreno, debemos, ya ahora, por la vida nueva, llevar la imagen del Adán celeste (cf. 1 Cor 15, 49), el cual constantemente «pro-existe» para el bien de todos los hombres.”
Comissão Teológica Internacional. Dignidade e direitos da pessoa humana, 2.2.3.
Imagem: Yasser Mutwakil on Unsplash
Os preceitos da lei natural

«Nós identificamos, na pessoa humana, uma primeira inclinação, que ela compartilha com todos os seres: a inclinação para conservar e desenvolver sua existência. Há, habitualmente, entre os seres vivos, uma reação espontânea em face da ameaça iminente de morte: fuga, defesa da integridade da própria existência, luta para sobreviver. A vida física aparece, naturalmente, como um bem fundamental, essencial, primordial: daí brota o preceito de proteger a própria vida. Sob esse enunciado de conservação da vida se perfilam as inclinações para tudo o que contribui, de uma forma própria ao homem, à manutenção e à qualidade da vida biológica: integridade do corpo; uso dos bens exteriores, que garantam a subsistência e integridade da vida, tal como a nutrição, a vestimenta, a moradia, o trabalho; a qualidade do ambiente biológico… A partir dessas inclinações, o ser humano se propõe fins a realizar, que contribuem ao desenvolvimento harmonioso e responsável do próprio ser e que, portanto, lhe aparecem como bens morais, valores a buscar, obrigações a cumprir e direitos a fazer valer. Com efeito, o dever de preservar a sua própria vida tem como correlativo o direito de exigir o que é necessário à sua conservação em um ambiente favorável.
A segunda inclinação, que é comum a todos os seres vivos, concerne à sobrevivência da espécie, que se realiza pela procriação. A geração se inscreve no prolongamento da tendência de perpetuar o ser. Se a perpetuação da existência biológica é impossível ao próprio indivíduo, ela é possível à espécie, e, assim, em certa medida, se encontra vencido o limite inerente a todo ser físico. O bem da espécie aparece, então, como uma das aspirações fundamentais presentes na pessoa. Particularmente, em nossos dias tomamos consciência quando certas perspectivas, como o aquecimento climático, avivam nosso senso de responsabilidade para com o planeta como tal e da espécie humana em particular. Essa abertura a um certo bem comum da espécie anuncia já algumas aspirações próprias ao homem. O dinamismo para com a criação está intrinsecamente ligado à inclinação natural, que leva o homem para a mulher e a mulher para o homem, dado universal reconhecido em todas as sociedades. O mesmo vale para a inclinação de cuidar dos filhos e de educá-los. Essas inclinações implicam que a permanência do casal de homem e mulher, e até mesmo sua fidelidade mútua, já sejam valores a buscar, mesmo se eles só possam se manifestar plenamente na ordem espiritual da comunhão interpessoal.
O terceiro conjunto de inclinações é específico ao ser humano como ser espiritual, dotado de razão, capaz de conhecer a verdade, de entrar em diálogo com os outros e de estabelecer relações de amizade. Assim, deve-se reconhecer sua particular importância. A inclinação a viver em sociedade deriva, primeiramente, do fato de que o ser humano tem necessidade dos outros para superar seus limites individuais intrínsecos e atingir sua maturidade nos diferentes âmbitos de sua existência. Mas, para manifestar plenamente sua natureza espiritual, ele tem necessidade de estabelecer relações de amizade generosa com seus semelhantes e de desenvolver uma cooperação intensa na busca da verdade. Seu bem integral está, assim, intimamente ligado à vida em comunidade, que existe em virtude de uma inclinação natural e não por uma simples convenção, e que o faz se organizar em sociedade política [54] . O caráter relacional da pessoa se exprime também pela tendência de viver em comunhão com Deus ou o Absoluto. Isso se manifesta no sentimento religioso e no desejo de conhecer a Deus. Certamente, ela pode ser negada por aqueles que se refutam admitir a existência de um Deus pessoal, mas que permanece mais ou menos implícita na busca da verdade e do sentido que habita em todo ser humano.
A essa tendência específica do homem corresponde a exigência percebida pela razão de realizar concretamente esta via de relações e de construir a vida em sociedade em bases justas, que correspondam ao direito natural. Isto implica o reconhecimento da igualdade fundamental de todo indivíduo da espécie humana, além das diferenças de raça e de cultura, e um grande respeito pela humanidade lá onde ela se encontre, e inclusive do menor e do mais desprezado de seus membros. “Não faças para o outro o que não queres que te façam”. Nós reencontramos aqui a regra de outro, que hoje é posta como princípio próprio de uma moral de reciprocidade. O primeiro capítulo permitiu-nos reportar à presença dessa regra na maior parte das sabedorias, assim como no próprio Evangelho. É em referência a uma formulação negativa desta regra de ouro que são Jerônimo manifestava a universalidade de vários preceitos morais. “É justo o julgamento de Deus que escreve no coração do gênero humano: ‘Aquilo que não queres que te façam, não faças aos outros’. Quem não sabe que o homicídio, o adultério, os furtos e toda espécie de cobiça são o mal, e, por isso, que não queremos que sejam feitos a nós mesmos? Se não soubéssemos que estas coisas são más, jamais nos lamentaríamos quando elas nos fossem infligidas”. A regra de ouro une vários mandamentos do Decálogo, assim como numerosos preceitos budistas, até regras do confucionismo, ou ainda a maior parte das orientações das grandes Cartas que indicam os direitos das pessoas.
Ao final desta rápida explicitação dos princípios morais, que derivam da tomada de consciência pela razão das inclinações fundamentais da pessoa humana, estamos na presença de um conjunto de preceitos e valores que, ao menos em sua formulação geral, podem ser considerados universais, porque se aplicam a toda a humanidade. Eles se revestem, também, de um caráter de imutabilidade, na medida em que decorrem de uma natureza humana cujos componentes essenciais permanecem idênticos ao longo de toda a história. Todavia, pode acontecer que estejam obscurecidos ou mesmo apagados no coração humano em razão do pecado e dos condicionamentos culturais e históricos que podem influenciar negativamente a vida moral pessoal: ideologias e propagandas insidiosas, relativismo generalizado, estruturas de pecado … É necessário, portanto, ser modesto e prudente quando se invoca a “evidência” dos preceitos da lei natural. Mas é correto reconhecer nestes preceitos o fundo comum sobre o qual se pode apoiar um diálogo em vista de uma ética universal. Os protagonistas deste diálogo devem, no entanto, aprender a abstrair-se de seus interesses particulares para se abrir às necessidades dos outros e se deixar interpelar pelos valores morais comuns. Em uma sociedade pluralista, na qual é difícil se entender sobre os fundamentos filosóficos, tal diálogo é absolutamente necessário. A doutrina da lei natural pode trazer sua contribuição a tal diálogo.
É impossível permanecer no nível de generalidade, que é aquele dos princípios primeiros da lei natural. A reflexão moral, com efeito, tem necessidade de descer ao concreto da ação para aí lançar sua luz. Mas quanto mais ela enfrenta situações concretas e contingentes, tanto mais suas conclusões são afetadas por uma nota de variabilidade e de incerteza. Não é surpreendente, pois, que a aplicação concreta dos preceitos da lei natural possa tomar formas diferentes nas diversas culturas ou mesmo em épocas diferentes dentro de uma mesma cultura. Basta invocar a evolução da reflexão moral sobre questões como a escravatura, empréstimo a juros, duelo ou pena de morte. Às vezes, essa evolução conduz a uma compreensão melhor da interpelação moral. Às vezes, também, a evolução da situação política ou econômica traz uma reavaliação das normas particulares que foram estabelecidas anteriormente. De fato, a moral se ocupa de realidades contingentes que evoluem no tempo. Se bem que tenha vivido em uma época de cristandade, um teólogo como santo Tomás de Aquino, tinha uma percepção muito nítida. “A razão prática, escreve ele na Suma Teológica, se ocupa de realidades contingentes, nas quais se exercem as ações humanas. É por isto que, embora nos princípios gerais haja alguma necessidade, quanto mais se afronta as coisas particulares tanto mais há indeterminação (…). No campo da ação, a verdade ou a retidão prática não é a mesma para todos nas aplicações particulares, mas unicamente nos princípios gerais; e para aqueles que a retidão é idêntica em suas próprias ações, ela não é igualmente conhecida por todos. (…) E aqui, quanto mais se desce no particular, mais a indeterminação aumenta”.»
Comissão Teológica Internacional. Em busca de uma ética universal: novo olhar sobre a lei natural, 48-53.
Imagem: The Cybernetic Princess
Culpas e sombras

«”A época actual, a par de muitas luzes, apresenta também muitas sombras.” (TMA 36) Entre estas, pode-se assinalar em primeiro plano o fenómeno da negação de Deus nas suas múltiplas formas. O que fere particularmente é ser esta negação, em especial nos seus aspectos mais teóricos, um processo surgido no mundo ocidental. Relacionado com o eclipse de Deus encontra-se, em seguida, uma série de fenómenos negativos, como a indiferença religiosa, a difusa ausência do sentido transcendente da vida humana, um clima de secularismo e relativismo ético, a negação do direito à vida da criança não nascida, que chega a ser sancionado nas legislações em favor do aborto, e uma grande indiferença perante o grito dos pobres em vastos sectores da família humana.
A inquietante questão que se coloca é em que medida os crentes serão eles mesmos responsáveis por estas formas de ateísmo, teórico e prático. A Gaudium et spes responde com palavras cuidadosamente escolhidas: “Os próprios crentes, muitas vezes, têm responsabilidade neste ponto. Com efeito, o ateísmo considerado no seu conjunto não é um fenómeno originário, antes resulta de várias causas, entre as quais se conta também a reacção crítica contra as religiões e, nalguns países, principalmente contra a religião cristã. Pelo que os crentes podem ter tido parte não pequena na génese deste ateísmo.” (19)
A partir do momento em que o rosto autêntico de Deus foi revelado em Jesus Cristo, aos cristãos é oferecida a graça incomensurável de conhecer este Rosto: mas têm, igualmente, a responsabilidade de viverem de modo a manifestar aos outros o verdadeiro Rosto do Deus vivo. São chamados a difundir no mundo a verdade que “Deus é amor (ágape)” (1Jo 4,8.16). Porque Deus é amor, Ele é Trindade de Pessoas, cuja vida consiste na recíproca comunicação infinita no amor. Deste modo se conseguirá que a vida melhore, pois os cristãos difundem que a verdade do Deus amor é o amor recíproco: “Por isto é que todos conhecerão que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros.” (Jo 13,35) E isto até ao ponto de se poder dizer que muitas vezes os cristãos “pela negligência na educação da sua fé, ou por exposições falaciosas da doutrina, ou ainda pelas deficiências da sua vida religiosa, moral e social, antes esconderam do que revelaram o autêntico rosto de Deus e da religião” (GS 19).
Sublinhe-se, por fim, que mencionar estas culpas dos cristãos do passado não é apenas confessá-las a Cristo Salvador, mas também louvar o Senhor da história pelo Seu amor misericordioso. Os cristãos, de facto, não crêem apenas na existência do pecado, mas também e sobretudo no “perdão dos pecados”. Além disso, mencionar estas culpas quer dizer também afirmar a nossa solidariedade com aqueles que no bem e no mal nos precederam na via da verdade, oferecer no presente um forte motivo de conversão às exigências do Evangelho, e proporcionar o necessário prelúdio ao pedido de perdão a Deus que abre caminho à recíproca reconciliação.»
Memória e reconciliação: a Igreja e as culpas do passado, 5.5
Imagem: Ýlona María Rybka on Unsplash
Monoteísmo e violência: um nexo necessário?

«O núcleo da fé religiosa, através dos mitos e dos ritos, das crenças e das devoções, dá testemunho da experiência misteriosa de Deus e interpela na profundidade todos os seres humanos. Deus é princípio e fim de todas as coisas. E nada é como Deus. O “monoteísmo” foi assim, durante muito tempo, também reconhecido, sob o ponto de vista da história da civilização, como a forma culturalmente mais evoluída da religião: a saber, o modo de pensar o divino mais congruente com os princípios da razão. A unicidade de Deus, acessível à filosofia, foi identificada como princípio da razão natural, que precede as tradições históricas das religiões. O pensamento puramente racional da unicidade de Deus, como ponto de convergência da razão e das religiões, servira justamente para regulamentar cultural e civilmente os conflitos confessionais e inter-religiosos da modernidade. Todavia é verdade que, no decurso da história e da própria modernidade ocidental, essa configuração da religião, que as filosofias e as ciências da cultura concordaram, em seguida, em chamar “monoteísmo judeo-cristão”, foi utilizada ideologicamente, na perspectiva de um directo paralelismo teológico-político para justificar a forma monárquica do poder soberano.
De qualquer modo, é indubitável que esse pensamento filosófico de Deus desenvolveu, entretanto, uma imagem – filosófica e política – do monoteísmo amplamente autónoma em face da autêntica revelação cristã, que tende para o deísmo, em parte atenuando, entre os próprios crentes, a originalidade da revelação cristã; em parte, desenvolvendo uma ideia do absoluto divino em tensão, se não em conflito aberto, com a interpretação coerente da fé. A cultura ocidental contemporânea, em reacção a um certo predomínio da unidade do ser e do verdadeiro, que caracterizou a maior parte das concepções filosóficas e políticas da própria modernidade, tende agora a privilegiar a pluralidade do bem e do justo: gerando uma significativa tensão entre o reconhecimento do pluralismo e a teorização de um princípio relativista. Sem mais, a consciência e o respeito das diferenças representa uma vantagem para a valorização das singularidades e para a abertura a um estilo hospitaleiro da convivência humana. Ao mesmo tempo, a evolução desta abertura deixa emergir também a sua contradição, ou seja, a incomunicabilidade dos mundos humanos, que assim são induzidos à desconfiança – se não à indiferença – perante o empenho em buscar o que é comum à dignidade do homem. A resignação ao relativismo radical como horizonte último e insuperável da demanda do verdadeiro, do justo, do bem, não constitui de facto uma melhor garantia para a satisfação e a cooperação da convivência humana. Ele transforma-se, de facto, inevitavelmente num motivo de justificação para a indiferença e a desconfiança recíproca acerca de qualquer tema da vida e de qualquer responsabilidade da política. Quando a busca da verdadeira justiça e o empenhamento pelo bem comum caiem sob a suspeita do conformismo e da constrição, a autêntica paixão pela igualdade, pela liberdade e pelos liames bons, acaba por ser radicalmente desencorajada. Não só. Semelhante perda de confiança e de motivações, provocada por um sentir relativista total, abandona as relações humanas a uma gestão anónima e burocrática da convivência civil. E não por acaso, uma parte conspícua da crítica social assinala hoje, juntamente com o crescimento de uma imagem pluralista da sociedade, a afirmação de um desígnio totalitário do pensamento único.
Na trilha deste paradoxo, o ideal – a própria ideia – da verdade é objecto de uma radical denúncia. A ideia de que a busca da verdade, além de necessária para o bem comum, possa ser pensada como empreendimento comum, partilhado pacificamente e atestado de forma respeitosa, é tida por ilusória e não realista. A verdade, nesta perspectiva, não surge pensada como princípio de dignidade e de união entre os homens, que os subtrai ao arbítrio e à perversão dos seus fechamentos egoístas, indiferentes à justiça do humano que é de todos. Pelo contrário, ela é, por vezes, explicitamente indicada como uma ameaça radical para a autonomia do sujeito e para a abertura da liberdade, sobretudo porque a pretensão de uma verdade objectiva e universal, de referência para todos, se bem que acessível ao espírito humano, é imediatamente associada a uma pretensão de posse exclusiva por parte de um sujeito ou grupo humano. Ela levaria assim à justificação do domínio do homem que reivindica a sua posse sobre o homem que, de acordo com essa pretensão, dela está privado. Em virtude desta representação da verdade, que a considera inseparável da vontade de poder, também o empenhamento na sua demanda e a paixão do seu testemunho são vistos a priori como matrizes de conflito e de violência entre os homens. Em semelhante enquadramento, a preocupante retomada do que chamamos comummente – e também de modo muito genérico – “fundamentalismos religiosos” é aceite como prova evidente e definitiva desta relação.
O colapso do panorama moderno é inesperado: o monoteísmo é, agora, arcaico e despótico, e o politeísmo criativo e tolerante. De qualquer forma, a classificação sumária do judaísmo, do cristianismo e do islamismo como as três grandes “religiões monoteístas”, pretende indicar assim a razão do perigo que elas representam para a estabilidade e o progresso humanista da “sociedade civil”. Mas não podemos passar em silêncio o facto de que, em certas partes intelectualmente relevantes da nossa cultura ocidental, a agressividade com que é reproposto este “teorema”, se concentra sobretudo na denúncia radical do cristianismo, ou seja, justamente da religião que, naquela fase histórica, surge realmente como protagonista da instância de um diálogo de paz, e para a paz, com as grandes tradições da religião e com as culturas laicas do humanismo. O facto de assim serem descaradamente associados a uma representação da fé no Deus Único como “semente da violência” fere, sem dúvida, milhões de autênticos crentes. E não apenas cristãos. Nos discípulos do Senhor induz certamente elementos de desconcerto e de embaraço, devido ao facto de a hodierna consciência cristã lhes aparecer muito afastada da pregação da violência. Podemos, por isso, compreender o espanto dos cristãos ao verem ser-lhes atribuída uma vocação religiosa à violência perante os fiéis de outras religiões ou também os propagandistas da crítica à religião: sobretudo se considerarmos que, em muitas partes do mundo, os cristãos são maltratados com a intimidação e a violência só por causa da sua pertença à comunidade cristã. Nas próprias sociedades democráticas e laicas, o vínculo com a pertença cristã foi, muitas vezes, apontado como uma ameaça para a paz social e para o livre confronto cultural, mesmo quando as argumentações apresentadas, em apoio de opiniões que concernem à esfera pública, apelam para recursos da racionalidade comum.
Não pode, decerto, negar-se o reacendimento, à escala mundial, do preocupante fenómeno da “violência religiosa”, não desprovido de significativas conexões com políticas de subversão étnica e de estratégia terrorista. Nem podemos ignorar, ao considerar a própria história do cristianismo, o desvairo e o desconcerto das nossas culposas e repetidas passagens pela violência religiosa. Como se introduz, na fé em Deus, a semente da violência? E como se perverte a bênção do reconhecimento do Deus único na maldição que arroja para o caminho da violência “em nome de Deus”? A nossa reflexão pretende essencialmente oferecer elementos de compreensão da qualidade cristã do monoteísmo, em vista de uma explícita acentuação do seu nexo intrínseco com o mistério da intimidade trinitária de Deus, revelado na incarnação do Filho de Deus feito homem. A conversão do nosso espírito e da nossa mente à melhor transparência da fé deve suscitar o generoso impulso do testemunho da singularidade desta fé: que a conjuntura histórica exige com especial urgência. Ao mesmo tempo, com as nossas reflexões, propomo-nos explicitar para todos “a razão da esperança que existe em nós” (1 Pd 3, 15), mediante o mais claro discernimento do apoio que a fé cristã torna disponível para a reconversão da razão ocidental ao espírito de um humanismo melhor.»
Deus Trindade, unidade dos homens, 3-7
Imagem: Ivan Vranić on Unsplash
O trabalho é uma benção de Deus que o capitalismo transforma em maldição

«O trabalho é uma realidade humana de fundamental valor. Expressa a condição histórica do ser humano enquanto criador de cultura. Pensar o ser humano implica reconhecê-lo na sua condi ção de quem interfere na natureza transformando-a em cultura. A teologia da criação sem querer se tornar uma teologia do trabalho indica que o ser humano recebe de Deus as obras criadas e é chamado a unir-se à ação criadora divina mediante o trabalho. Antes de o pecado macular o sentido original do trabalho, o Criador já dera ao homem as ordens de cuidado do Jardim (Gn 2,15). A administração do mundo confiada ao ser humano é uma indicação desse desejo divino de que aquele que foi criado à sua imagem e semelhança expresse uma dimensão dessa imagem pela continuidade da própria obra criadora. Ainda assim, afirma-se que “o trabalho é um valor da vida humana, mas não é o único nem o supremo valor. O ser humano é chamado a trabalhar porque é criado à imagem do Deus criador, mas o trabalho não esgota o significado da vida humana nem o sentido da história da humanidade.”
A referência ao descanso do Criador – “Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a obra da criação” (Gn 2,3) – sinaliza a limitação do próprio trabalho, ou seja, aponta o sentido do trabalho para além de si mesmo, como outrora afirmado. Parece indicar que o ser humano, que pode muito pelo trabalho, não pode tudo. O descanso mostra-nos como as forças humanas são finitas e como o trabalho tem seus limites. No mundo contemporâneo, organizado ao redor do trabalho, a expressão dopecado se manifesta pelas variadas formas de escravidão, trabalho forçado, desemprego, subemprego, salários insuficientes e defasados. É de suma importância garantir para o ser humano – homem e mulher – a experiência do trabalho como co-criação. Assim, como co-criador, o ser humano tem mais chances de tocar o sentido da transcendência do próprio trabalho e este haveria de ser expressão de cuidado pela vida.
As necessidades fundamentais do ser humano como alimentação, vestuário, moradia não deveriam ser os primeiros frutos do trabalho? Toda atividade no horizonte do trabalho deveria nos comprometer mais com a defesa da vida e lembrar-nos que “os direitos dos trabalhadores, como todos os demais direitos, se baseiam na natureza da pessoa humana e na sua dignidade transcendente”.»
João Justino de Medeiros Silva. Indicações para uma espiritualidade do cuidado à luz da teologia da criação.
Imagem original: Bruno Nascimento on Unsplash
Violência e desumanização

A riqueza do vocabulário hebraico ao trazer à luz as múltiplas possibilidades de vítimas e as ações violentas que recaíam sobre elas impressiona. São pessoas e/ou grupos de pessoas destinados à periferia da vida. A existências deles é eclipsada por aqueles que possuindo poder, criam periferias e, para lá, exilam todas as vítimas. Vítimas da violência que se apresentam como seres “sobrantes” e que não possuem mais lugar na sociedade. Na periferia, tomados pela dor da violência imposta, elas clamam.
Por isso a literatura bíblica não pode ser reduzida à violência. Na literatura profética, por exemplo, encontramos visões da sociedade sem as marcas da injustiça. Pois não haverá mais tirano, e aquele que zombava de todos desaparecerá. E todos os que tramam o mal serão eliminados: os que acusam alguém no processo, os que no tribunal fazem armadilha para o juiz e, por um nada, reprimem o justo (Is 29.20-21). Jeremias elogia o rei Josias porque ele fezjustiça e direito e julgou a causa dos pobres e necessitados (Jr 22.15-16). Em vez de explorar o pobre, Josias usou seu poder para protegê-los de serem explorados por outras pessoas poderosas. A noção do rei justo se torna uma visão do futuro em Is 11.1-9: com justiça ele julgará os pobres – significando que ele lhes dará seus direitos quando eles apelarem a ele. Toda essa ganância implacável terá um fim: porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor. Pois conhecer a Deus é fazer justiça e dar aos pobres seus direitos (Jr 22.16).
E, mais tarde, encontraremos Jesus frequentemente criticando as injustiças perpetradas contra os pobres pela elite rica preocupada com sua própria segurança e desejo de lucro. Ele repreende aqueles que exploram os recursos das viúvas (Mc 12.38-40; Lc 3.10-14; Is 10.1-2; Zc 7.10; Ml 3.5) e condena os líderes religiosos que roubam o povo (Mc 11.15-17; cf. Jr 7.8-11). Da mesma forma, ele expressa indignação com aqueles que ignoram suas obrigações com aqueles que precisam (Mc 3.1-6; 7.9-13; Lc 11.37-42; 14.1-6; cf. Lc 16.4,19-31). Na mesma tradição dos profetas, ele critica tanto aqueles que estão ansiosos demais com suas riquezas (Mc 4.18-19; Mt 6.24,27,33) como aqueles que con fiam demais em sua segurança financeira (Lc 6.24; 12.13-21). Em uma das parábolas de Jesus, o homem rico vai para o inferno por ignorar o pobre mendigo em seu portão (Lc 16.19-31). Ele não escutou a Moisés e aos profetas (Lc 16.31). E as palavras de Tiago contra os ricos poderiam ter saído diretamente dos profetas (Tg 5.1-6).
A conclusão parece óbvia, ou seja, o Antigo Testamento – assim como o Novo Testamento – condena absolutamente a violência (cf. Sl 11.5; Is 53.9b; Pv 3.31).
Luiz Alexandre Solano Rossi. Catálogo de violência e a desumanização dos pobres do Antigo Testamento.
O papel da identidade social nas relações intergrupais

«Apesar de ser um tema amplamente discutido pela filosofia, sociologia e antropologia, do ponto de vista da psicologia social, as relações intergrupais fazem parte de sua agenda há um tempo relativamente recente (Costa, 2009). Um dos primeiros trabalhos a analisar as relações intergrupais e sua ligação com processos de discriminação social foi desenvolvido por Kurt Lewin (1997/1941), tendo contribuído substancialmente para a formulação posterior da teoria da identidade social. Este autor discute questões teóricas sobre discriminação social por meio da observação e análise dos acontecimentos sociais e movimentos sociais da década de 30, na Europa e nos EUA, especificamente, sobre questões referentes ao antissemitismo, luta das mulheres e dos negros pelo direito ao voto (Lewin, 1997/1941). O interesse de Lewin estava nas práticas de socialização e nas dinâmicas inter e intragrupais utilizadas pelos membros de grupos desprivilegiados face o cenário de discriminação do qual eram alvo. Suas contribuições foram utilizadas por Tajfel (1979), permitindo o desenvolvimento de teorizações mais sistemáticas sobre as relações intergrupais. De modo geral, Lewin dá ênfase ao caráter social do antissemitismo, situando-o em forças externas ao grupo discriminado e independente do comportamento ou características de seus membros. Acrescenta ainda que os pensamentos negativos relativos ao grupo de pertença dão origem a estratégias de adaptação ao grupo dominante e também ao grupo dominado. No entanto, esse processo de adaptação, segundo essa perspectiva, não se traduz em uma mudança efetiva no sistema social, visto que o grupo dominado, normalmente, assimila os valores do grupo dominante, como é o caso das análises em relação ao antissemitismo. Nessa perspectiva, o grupo dominado seria uma entidade subjetivamente formulada, capaz de integrar seus membros a partir de um destino comum, o que por consequência retira dos seus membros a distintividade individual (Cabecinhas, 2002a).
Allport (1962) apresenta em sua análise sobre o preconceito, a noção de generalização das características do grupo alvo como sendo uma das bases da categorização. Neste aspecto, essa ausência de distintividade individual percebida no grupo dominado gera no grupo dominante uma autonomia que não é capaz de ser experienciada pelo grupo dominado, resultando na manutenção das relações assimétricas de poder entre os grupos. É neste sentido que Allport insere o processo de estereotipização e rotulação na discussão sobre as relações intergrupais e enfatiza que a categoria, ou seja, o rótulo linguístico e o estereótipo fazem parte de um processo mental complexo, em que um estereótipo não pode ser idêntico a uma categoria, mas pode ser compreendido como uma ideia fixa que acompanha a categoria. O estereótipo atua, por sua vez, como um recurso justificatório para a aceitação ou rejeição categórica de um grupo e como recurso seletivo que assegura a manutenção da simplicidade no julgamento (Allport, 1962).
Em termos de uma reflexão sobre as contribuições seminais de Lewin e de Allport, podemos indicar que, se por um lado o primeiro autor enfatizava o caráter social das relações intergrupais entre grupos dominados e grupos dominantes, por outro lado, Allport focalizava sua análise do preconceito com base, principalmente em aspectos cognitivos, como falha cognitiva, processo de categorização, embora tenha salientado a natureza multifocal deste fenômeno. Deste modo, é possível supor a existência de uma articulação entre fenômenos de ordem intrapsíquica e social na base da construção das configurações derivadas das relações sociais. E são essas configurações que guiam o comportamento social.
Outro teórico que também contribuiu para o estudo das relações intergrupais foi Sherif (1961). Seus estudos realizados entre as décadas de 1950 e 1960 foram promissores em introduzir na psicologia social os primeiros passos para o entendimento dos conflitos intergrupais (Gaertner & Dovidio, 2000).
Em um estudo denominado “Robbers Cave”, Sherif (1961) analisou as interações naturais de dois grupos de meninos em um acampamento de verão. Por uma semana, os grupos conviviam separadamente a fim de fortalecer as normas intragrupais. Na semana seguinte, os grupos eram colocados em situação de competição por meio de atividades esportivas. Por fim, na terceira semana, os grupos mantinham contato em situação neutra. Os resultados demonstraram dados interessantes sobre a formação de normas e a emergência de uma hierarquia dentro dos grupos. Na situação de competição, houve o surgimento de estereótipos e de hostilidade entre os grupos. Na situação neutra, embora não competindo entre si, a hostilidade entre os grupos não foi reduzida. Apenas após a intervenção dos pesquisadores, introduzindo metas que não poderiam ser atingidas sem a cooperação de ambos os grupos, as relações intergrupais vieram a se tornar mais harmoniosas (Gaertner & Dovidio, 2000).
O modelo de Sherif (1961) estipulava que os comportamentos hostis entre os grupos, bem como, as representações que favorecem o endogrupo em relação ao exogrupo, resultam da situação de conflito e não das características ou estruturas internas do grupo e seus membros. As evidências indicam que tais comportamentos são resultantes da identificação dos membros com seu grupo, o que coloca a identidade social no centro das relações intergrupais (Neto & Amâncio, 1997).
Levine e Campbell (1972), pioneiros a contribuírem com o estudo sobre conflito intergrupal, definiram essas considerações advindas dos estudos de Sherif como um conflito realista (propondo posteriormente o modelo do conflito realista), tendo em vista que os conflitos intergrupo foram gerados por condições de conflito reais, por isso, a denominação de conflito de interesses grupais. No entanto, para Tajfel e Turner (1979), os dados obtidos nas investigações de Sherif, apesar de levantarem importantes constatações sobre o comportamento intergrupal, deixam a desejar no sentido em que negligenciam a identificação dos participantes com seu grupo de pertença como determinante central na análise do comportamento intergrupal. A identificação com o próprio grupo foi tomada neste modelo como um fenômeno derivado apenas dos conflitos gerados no grupo.
Para Sherif (1961), a competição entre os grupos pode aumentar a coesão dos membros e a cooperação dentro do grupo, isto é, os conflitos intergrupais não apenas geram sentimentos antagônicos em relação ao exogrupo, mas podem proporcionalmente desenvolver dentro do próprio grupo sentimentos favoráveis que ampliam a satisfação com a pertença grupal (Cikara, Botvinick, & Fiske, 2011). Contudo, a identidade social não é aludida como um fenômeno autônomo, mas secundário, ponto que para Tajfel e Turner (1979) é crucial no entendimento das relações intergrupais. Para esses autores, o desenvolvimento das identificações com o grupo de pertença é entendido na teoria do conflito realista basicamente como um epifenômeno do conflito intergrupal. Para a teoria do conflito realista, essas identificações aparecem ligadas a alguns padrões das relações intergrupais, mas não é apresentado um suporte em termos do processo que está por trás do desenvolvimento e manutenção da identidade grupal nem sobre o possível papel autônomo sobre os aspectos subjetivos do comportamento endogrupal e intergrupal dos membros do grupo (Tajfel & Turner, 1979).
Desta forma, Tajfel e Turner (1979) defendem uma orientação teórica que possa ampliar esses achados, colocando a identidade social no centro do processo inerente às relações intergrupais e conflitos intergrupais. Inicia-se, então, uma longa jornada de investigações que se tornaram um marco no estudo do preconceito e discriminação através dos pressupostos da teoria da identidade social (Jenkins, 2014).»
Sheyla Christine Santos Fernandes; Marcos Emanoel Pereira. Endogrupo versus Exogrupo: o papel da identidade social nas relações intergrupais
Imagem: Barbara Zandoval on Unsplash
Ouvir a voz do coração alheio

“El documento de la Congregación para la Educación Católica, Varón y Mujer los creó, que promueve una metodología articulada en tres actitudes, escuchar, razonar y proponer para favorecer el encuentro con las necesidades de las personas y las comunidades; señala en los números introductorios que
«en el sexo radican las notas características que constituyen a las personas como hombres y mujeres en el plano biológico, psicológico y espiritual, teniendo así mucha parte en su evolución individual y en su inserción en la sociedad. En el proceso de crecimiento esta diversidad, aneja a la complementariedad de los dos sexos, responde cumplidamente al diseño de Dios en la vocación enderezada a cada uno».
De acuerdo con estas afirmaciones, habiendo escuchado las demandas de las personas transgénero y de sus familias, surgen algunos cuestionamientos. Si el diseño de Dios en la vocación personal se realiza en la diferencia complementaria de los sexos que constituyen a varones y mujeres tanto en el plano biológico, psicológico y espiritual, ¿qué antropología es capaz de incluir a quienes no responden experiencial, identitaria y corporalmente a ese registro? ¿De qué modo habrán de vivir su espiritualidad si esta está constituida en razón del sexo biológico? ¿Qué imagen de Dios nos transmite una enseñanza que no abraza toda realidad humana en la realización enderezada de la vocación a la que estamos llamados/llamadas?
Si como bien afirma el documento, «la primera actitud de quien desea entrar en diálogo es escuchar», propongo que el primer paso para nuestras reflexiones no sea «escuchar y comprender lo que ha sucedido en las últimas décadas. El advenimiento del siglo XX, com sus visiones antropológicas»,18 sino prestar una escucha atenta a las personas, con sus experiencias, sus sufrimientos y sus historias de vida, de modo tal que podamos razonar y proponer vinculando la sabiduría de la enseñanza eclesial con la vida de las personas para que realmente puedan vivir la vocación a la que han sido llamadas dónde y cómo se encuentren, inspiradas en el Evangelio.
El Papa Francisco entiende que la escucha
«significa prestar atención, tener deseo de comprender, de valorar, respetar, custodiar la palabra del otro. En la escucha se origina una especie de martirio, un sacrificio de sí mismo en el que se renueva el gesto realizado por Moisés ante la zarza ardiente: quitarse las sandalias en el “terreno sagrado” del encuentro con el otro que me habla».
La otra persona es «terreno sagrado» donde la vida florece em la palabra que se dice y se recibe con reverencia, porque transmite una experiencia y es capaz de generar el encuentro compartiendo no solo certezas sino también dudas y preguntas. En el camino de la escucha habrá que hacer un éxodo, salir de la comodidad del territorio conocido y seguro recorriendo caminos junto a otras personas liberándose de cualquier presunción de omnipotencia para poner los propios dones al servicio del bien común.
Propongo entonces la escucha atenta a la narración de una experiencia, sin «dirigir nuestra mirada hacia el otro con la finalidad de conocerlo, sino la de posibilitar que nos conozcamos en la mirada del otro, permitir que el otro nos alcance e inclusive que abrajuicio sobre nosotros».
Mi interés en este trabajo no será producir conocimiento acerca de la transexualidad ni plantear un discurso antropológico que la capture para «excluirla de», o la «inserte forzadamente» en una tradición de tendencia dualista y de configuración binaria. La misma complejidad de la situación demanda una reflexión atenta a la escucha de personas que nos solicitan con sus preguntas una comprensión válida de la sexualidad que pueda enriquecer sus vidas y a la vez que brinde un horizonte antropoteológico desde donde interpretar las nuevas expresiones de la sexualidad humana. Entre ellas, las que encarnan las personas transgénero y el modo en que se reconocen a sí mismas.
En la corriente viva del Evangelio anunciado por Jesús, transmitido en la Iglesia y que abraza todas las dimensiones existenciales de cada ser, también habremos de responder a la pregunta por ese Dios que creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, y que en su creatividad infinita se deja ver en quienes pujan por descubrir quiénes están llamados/llamadas a ser.”
Andrea Sanchez Ruiz. Hospedar la diversidad. Lo que Jesús hace con todas las personas.
Imagem: Bart LaRue on Unsplash
“Ópio do povo”

«
No Brasil, a partir dos anos 1970, Hugo Asmann, Leonardo e Clodovis Boff e Frei Betto foram as difusores da teologia da libertação que, nada mais é do que a real opção da Igreja Católica na defesa dos interesses dos pobres, em razão da inércia do Estado e também ricos em socorrê-los e consequente ausência de materialização de direitos fundamentais, com a falta de moradia e de moradia decente, de salário digno, de emprego etc., a demonstrar que não era possível a Igreja permanecer distante destes fatos, preocupação primeira de Jesus Cristo, quando esteve entre nós.
Assim é que Michael Lowy, “A Teologia da libertação acabou?” Teoria e Direito, Fundação Perseu Abramo, n. 31, 1996, nos esclarece, com maestria, o que é esse movimento em prol dos pobres a afirmar que: “a teologia da libertação não é senão a ponta visível de um iceberg, isto é, de um imenso movimento social composto por comunidade de base, pastorais populares – da terra, operária, indígena, da juventude -, por redes do clero progressista (especialmente nas ordens religiosas), associações de bairros pobres, movimentos de camponeses sem-terra etc. Este movimento, que poderíamos chamar de cristianismo da libertação, nasceu no curso dos anos de 1960, como a primeira esquerda cristã brasileira (1960-1962) e com o sacrifício de Camilo Torres, o padre guerrilheiro morto em combate em 1966. Encontrou sua expressão religiosa mais avançada na teologia da libertação, a partir de 1971, ano da publicação das obras pioneiras de Gustavo Gutiérrez e Hugo Asmann. Enfim, forneceu boa parte dos militantes e simpatizantes da Frente Sandinista, da FMLN salvadorenha e do Partido dos Trabalhadores brasileiro,”.
E apesar dos contratempos, considerado que esse movimento desagrada aos poderosos e principalmente às políticas neoliberais que significa menos direitos aos pobres, pode-se afirmar que o cristianismo de libertação permanece vivo, inclusive em Belo Horizonte, sobre a liderança de Frei Gilvander, dentre outros católicos, que arregaçam as mangas e vão à luta, vão ao campo, em prol dos mais necessitados, evitando-se que inúmeros despejos fossem concretizados, inclusive em plena pandemia da Covid-19.,
Portanto, inúmeras ações políticas são praticadas, diariamente, por esse movimento no Brasil todo, considerando que a função social da propriedade ainda não foi bem assimilada, principalmente pelo Judiciário brasileiro, sopesando que, afinal, prevalece a sacralização da propriedade, com inúmeras reintegrações de posses sendo executadas, apenas adiando o problema dos sem tetos, caso não haja uma negociação, com a transferência dos despejados para locais apropriados.
E na atualidade esse necessário e as vezes incompreendido movimento ampliou o conceito de pobre, com a inclusão também dos negros e mulheres, dos índios e de toda camadas que forem atingidas por formas específicas de opressão. Portanto, é um movimento que vai ao encontro à nossa atual Constituição, considerando que tem por objetivo a inclusão de todos no ordenamento jurídico, não apenas formal, mas também materialmente.»
Newton Teixeira. Redefinição da crítica marxista da religião.
Imagem: Wikimedia
Razão, liberdade e amor

«Mas hoje a nossa pergunta é: na época da ciência e da técnica, ainda tem sentido falar de criação? Como devemos compreender as narrações do Génesis? A Bíblia não quer ser um manual de ciências naturais; ao contrário, deseja compreender a verdade autêntica e profunda da realidade. A verdade fundamental que as narrações do Génesis nos revelam é que o mundo não é um conjunto de forças contrastantes entre si, mas tem a sua origem e a sua estabilidade no Logos, na Razão eterna de Deus, que continua a sustentar o universo. Existe um desígnio sobre o mundo que nasce desta Razão, do Espírito criador. Julgar que isto está na base de tudo ilumina todos os aspectos da existência e infunde a coragem de enfrentar a aventura da vida com confiança e esperança. Portanto, a Escritura diz-nos que a origem do ser, do mundo, a nossa origem não é o irracional, mas a razão, o amor e a liberdade. Por isso, a alternativa: ou prioridade do irracional, da necessidade, ou prioridade da razão, da liberdade e do amor. Nós cremos nesta última posição.»
Imagem: Sven Brandsma on Unsplash
O pão e a Palavra

“Uma teologia da libertação corretamente entendida constitui, pois, um convite aos teólogos a aprofundarem certos temas bíblicos essenciais, com o espírito atento às graves e urgentes questões que a atual aspiração pela libertação e os movimentos de libertação, eco mais ou menos fiel dessa aspiração, põem à Igreja. Não é possível esquecer, por um só instante, as situações de dramática miséria de onde brota a interpelação assim lançada aos teólogos.
A experiência radical da liberdade cristã constitui aqui o primeiro ponto de referência. Cristo, nosso Libertador, libertou-nos do pecado e da escravidão da lei e da carne, que constitui a marca da condição do homem pecador. Ê pois a vida nova da graça, fruto da justificação, que nos torna livres. Isto significa que a mais radical das escravidões é a escravidão do pecado. As demais formas de escravidão encontram pois, na escravidão do pecado, a sua raiz mais profunda. É por isso que a liberdade, no pleno sentido cristão, caracterizada pela vida no Espírito, não pode ser confundida com a licença de ceder aos desejos da carne. Ela é vida nova na caridade.
As « teologias da libertação » recorrem amplamente à narração do Livro do Êxodo. Este constitui, de fato, o acontecimento fundamental na formação do Povo eleito. É preciso não perder de vista, contudo, que a significação específica do acontecimento provém de sua finalidade, já que esta libertação está orientada para a constituição do povo de Deus e para o culto da Aliança celebrado no Monte Sinai. Por isso a libertação do Êxodo não pode ser reduzida a uma libertação de natureza prevalentemente ou exclusivamente política. É significativo, de resto, que o termo libertação seja ás vezes substituído na Sagrada Escritura pelo outro, muito semelhante, de redenção.
Jamais se apagará da memoria de Israel o episódio que originou o Êxodo. Ele é o ponto de referência quando, após a destruição de Jerusalém e o Exílio de Babilónia, o Povo eleito vive na esperança de uma nova libertação e, para além dessa, na expectativa de uma libertação definitiva. Nesta experiência, Deus é reconhecido como o Libertador. Ele estabelecerá com seu povo uma nova Aliança, marcada pelo dom do seu Espírito e pela conversão dos corações.
As múltiplas angústias e desgraças experimentadas pelo homem fiel ao Deus da Aliança servem de tema para diversos salmos: lamentações, pedidos de socorro, ações de graças referem-se à salvação religiosa e à libertação. Neste contexto, a desgraça não se identifica pura e simplesmente com uma condição social de miséria ou com a sorte de quem sofre opressão política. Ela inclui também a hostilidade dos inimigos, a injustiça, a morte e a culpa. Os salmos nos remetem a uma experiência religiosa essencial: somente de Deus se espera a salvação e o remédio. Deus, e não o homem, tem o poder de mudar as situações de angústia. Assim, os « pobres do Senhor » vivem numa dependência total e confiante na providência amorosa de Deus. Aliás, durante toda a travessia do deserto, o Senhor nunca deixou de prover à libertação e à purificação espirituais de seu povo.
No Antigo Testamento, os profetas, desde Amos, não cessam de recordar, com particular vigor, as exigências da justiça e da solidariedade e de formular um juizo extremamente severo sobre os ricos que oprimem o pobre. Tomam a defesa da viúva e do órfão. Proferem ameaças contra os poderosos: a acumulação de iniquidades acarretará necessariamente terríveis castigos. Isto porque não se concebe a fidelidade à Aliança sem a prática da justiça. A justiça em relação a Deus e a justiça em relação aos homens são inseparáveis. Deus é o defensor e o libertador do pobre.
Semelhantes exigências encontram-se também no Novo Testamento. Ali são até radicalizadas, como demonstra o discurso das Bem-aventuranças. Conversão e renovação devem operar-se no mais íntimo do coração.
Já anunciado no Antigo Testamento, o mandamento do amor fraterno estendido a todos os homens constitui agora a suprema norma da vida social. Não há discriminações ou limites que possam opor-se ao reconhecimento de todo e qualquer homem como o próximo.
A pobreza por amor ao Reino é exaltada. E na figura do Pobre, somos levados a reconhecer a imagem e como que a presença misteriosa do Filho de Deus que se fez pobre por nosso amor. Este é o fundamento das inexauríveis palavras de Jesus sobre o Juízo, em Mt 25, 31-46. Nosso Senhor é solidário com toda desgraça; toda desgraça leva a marca de sua presença.
Contemporaneamente as exigências da justiça e da misericórdia, já enunciadas no Antigo Testamento, são aprofundadas a ponto de revestirem no Novo Testamento uma significação nova. Aqueles que sofrem ou são perseguidos são identificados com Cristo. A perfeição que Jesus exige de seus discípulos (Mt 5, 18) consiste no dever de serem misericordiosos « como vosso Pai é misericordioso » (Lc 6, 36).
É à luz da vocação cristã ao amor fraterno e à misericórdia que os ricos são severamente admoestados para que cumpram o seu dever.São Paulo, perante as desordens na Igreja de Corinto, acentua vigorosamente a ligação que existe entre tomar parte no sacramento do amor e repartir o pão com o irmão que se encontra em necessidade.
A Revelação do Novo Testamento nos ensina que o pecado é o mal mais profundo, que atinge o homem no cerne da sua personalidade. A primeira libertação, ponto de referência para as demais, é a do pecado.
Se o Novo Testamento se abstém de exigir previamente, como pressuposto para a conquista desta liberdade, uma mudança da condição política e social, é sem dúvida, para salientar o caráter radical da emancipação trazida por Cristo, oferecida a todos os homens, sejam eles livres ou escravos politicamente. Contudo a Carta a Filêmon mostra que a nova liberdade, trazida pela graça de Cristo, deve necessariamente ter repercussão também no campo social.
Não se pode portanto restringir o campo do pecado, cujo primeiro efeito é o de introduzir a desordem na relação entre o homem e Deus, àquilo que se denomina « pecado social ». Na verdade, só uma adequada doutrina sobre o pecado permitirá insistir sobre a gravidade de seus efeitos sociais.
Não se pode tampouco situar o mal unicamente ou principalmente nas « estruturas » económicas, sociais ou políticas, como se todos os outros males derivassem destas estruturas como de sua causa: neste caso a criação de um « homem novo » dependeria da instauração de estruturas económicas e socio-políticas diferentes. Há, certamente, estruturas iníquas e geradoras de iniquidades, e é preciso ter a coragem de mudá-las. Fruto da ação do homem, as estruturas boas ou más são consequências antes de serem causas. A raiz do mal se encontra pois nas pessoas livres e responsáveis, que devem ser convertidas pela graça de Jesus Cristo, para viverem e agirem como criaturas novas, no amor ao próximo, na busca eficaz da justiça, do auto-domínio e do exercício das virtudes.
Ao estabelecer como primeiro imperativo a revolução radical das relações sociais e ao criticar, a partir desta posição, a busca da perfeição pessoal, envereda-se pelo caminho da negação do sentido da pessoa e de sua transcendência, e destroem-se a ética e o seu fundamento, que é o caráter absoluto da distinção entre o bem e o mal. Ademais, sendo a caridade o princípio da autêntica perfeição, esta não pode ser concebida sem abertura aos outros e sem espírito de serviço.
Para responder ao desafio lançado à nossa época pela opressão e pela fome, o Magistério da Igreja, com a preocupação de despertar as consciências cristãs para o sentido da justiça, da responsabilidade social e da solidariedade para com os pobres e os oprimidos, relembram repetidamente a atualidade e a urgência da doutrina e dos imperativos contidos na Revelação.
Limitamo-nos a mencionar aqui apenas algumas destas intervenções: os pronunciamentos pontifícios mais recentes, Mater et Magistra e Pacem in terris, Populorum progressio e Evangelii nuntiandi. Mencionemos ainda a carta ao Cardeal Roy, Octogésima adveniens.
O Concílio Vaticano II, por sua vez, tratou as questões da justiça e da liberdade na Constituição pastoral Gaudium et spes.
O Santo Padre insistiu em diversas oportunidades neste tema, particularmente nas encíclicas Redemptor hominis, Dives in Misericórdia e Laborem exercens. As numerosas intervenções que relembram a doutrina dos direitos do homem tocam diretamente nos problemas da libertação da pessoa humana em face dos diversos tipos de opressão de que é vítima. É preciso citar, especialmente neste contexto, o discurso proferido diante da XXXVI Assembleia geral da ONU, em New-York, no dia 2 de outubro de 1979.[14] No dia 28 de janeiro do mesmo ano, João Paulo II, ao abrir a Terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em Puebla, havia recordado que a verdade completa sobre o homem é a base da verdadeira libertação. Este texto constitui um documento de referência direta para a teologia da libertação.
Por duas vezes, em 1971 e 1974, o Sínodo dos Bispos tratou de temas que se referem diretamente à concepção cristã da libertação: o tema da justiça no mundo e o tema da relação entre a libertação das opressões e a libertação integral ou a salvação do homem. Os trabalhos dos Sínodos de 1971 e de 1974 levaram Paulo VI a esclarecer, na Exortação apostólica Evangelii nuntiandi, a relação que existe entre a evangelização e a libertação ou a promoção humana.
A preocupação da Igreja pela libertação e pela promoção humana traduziu-se também no fato da constituição da Pontifícia Comissão Justiça e Paz.
Numerosos Episcopados, de acordo com a Santa Sé, têm lembrado também eles a urgência e os caminhos para uma autêntica libertação humana. Neste contexto convém fazer menção especial dos documentos das Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano de Medellin, em 1968, e de Puebla, em 1979. Paulo VI esteve presente na abertura de Medellin, João Paulo II na de Puebla. Ambos os Papas trataram do tema da conversão e da libertação.
Seguindo as pegadas de Paulo VI, insistindo na especificidade da mensagem do Evangelho, especificidade que deriva da sua origem divina, João Paulo II, no discurso de Puebla, lembrou quais são os três pilares sobre os quais deve assentar una autêntica teologia da libertação: a verdade sobre Jesus Cristo, a verdade sobre a Igreja e a verdade sobre o homem.
Não se pode esquecer a ingente soma de trabalho desinteressado realizado por cristãos, pastores, sacerdotes, religiosos e leigos que, impelidos pelo amor a seus irmãos que vivem em condições desumanas, se esforçam por prestar auxílio e proporcionar alívio aos inumeráveis males que são frutos da miséria. Entre eles, alguns se preocupam por encontrar os meios eficazes que permitam pôr fim, o mais depressa possível, a uma situação intolerável.
O zelo e a compaixão, que devem ocupar um lugar no coração de todos os pastores, correm por vezes o risco de se desorientar ou de serem desviados para iniciativas não menos prejudiciais ao homem e à sua dignidade do que a própria miséria que se combate, se não se prestar suficiente atenção a certas tentações.
O sentimento angustiante da urgência dos problemas não pode levar a perder de vista o essencial, nem fazer esquecer a resposta de Jesus ao Tentador (Mt 4, 4): « Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus » (Dt 8, 3). Assim, sucede que alguns, diante da urgência de repartir o pão, são tentados a colocar entre parênteses e a adiar para amanhã a evangelização: primeiro o pão, a Palavra mais tarde. É um erro fatal separar as duas coisas, até chegar a opô-las. O senso cristão, aliás, espontaneamente sugere a muitos que façam uma e outra.
A alguns parece até que a luta necessária para obter justiça e liberdade humanas, entendidas no sentido económico e político, constitua o essencial e a totalidade da salvação. Para estes, o Evangelho se reduz a um evangelho puramente terrestre.
É em relação à opção preferencial pelos pobres, reafirmada com vigor e sem meios termos, após Medellin, na Conferência de Puebla de um lado, e à tentação de reduzir o Evangelho da salvação a um evangelho terrestre, de outro lado, que se situam as diversas teologias da libertação.
Lembremos que a opção preferencial, definida em Puebla, é dupla: pelos pobres e pelos jovens. É significativo que a opção pela juventude seja, de maneira geral, totalmente silenciada.
Dissemos acima (cf. IV, 1) que existe uma autêntica « teologia da libertação », aquela que lança raízes na Palavra de Deus, devidamente interpretada.
Mas sob um ponto de vista descritivo, convém falar das teologias da libertação, pois a expressão abrange posições teológicas, ou até mesmo ideológicas, não apenas diferentes, mas até, muitas vezes, incompatíveis entre si.
No presente documento tratar-se-á somente das produções daquela corrente de pensamento que, sob o nome de « teologia da libertação », propõem uma interpretação inovadora do conteúdo da fé e da existência cristã, interpretação que se afasta gravemente da fé da Igreja, mais ainda, constitui uma negação prática dessa fé.
Conceitos tomados por empréstimo, de maneira a-crítica, à ideologia marxista e o recurso a teses de uma hermenêutica bíblica marcada pelo racionalismo encontram-se na raiz da nova interpretação, que vem corromper o que havia de autêntico no generoso empenho inicial em favor dos pobres.”
Libertatis nuntius, IV-VI
Imagem: Priscilla Du Preez on Unsplash
